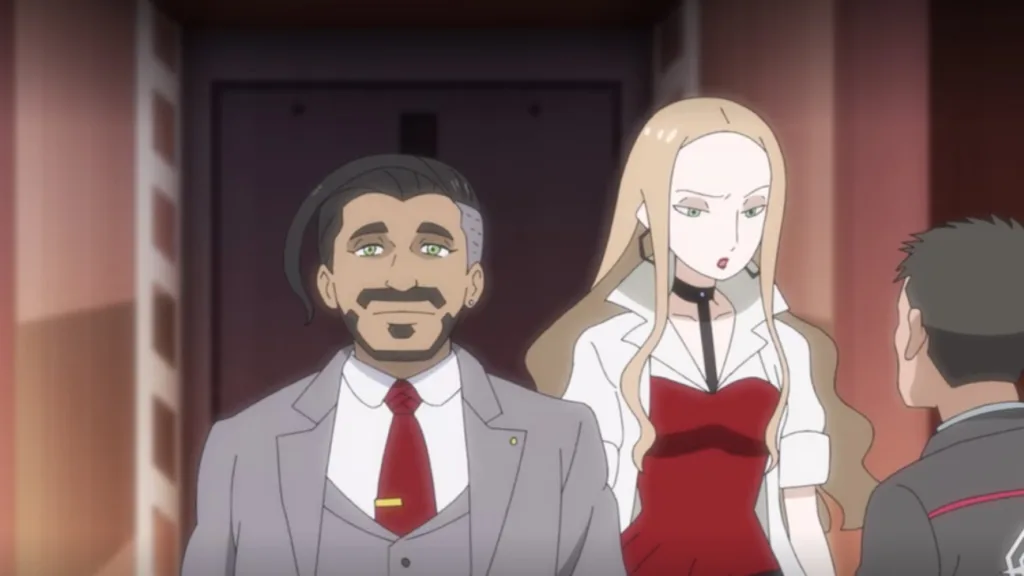Depois de muito tempo, finalmente consegui resolver meu bloqueio de escritor e estou voltando ao velho ritmo de sempre. Para celebrar, vamos fazer uma coluna leve e divertida. A polêmica bruta e guerreira fica para a próxima.
Na semana passada, eu li um par de colunas sobre um tema interessante, e as duas de dois autores habituais em meus favoritos. O primeiro foi o Chris Dahlen na Edge, You Can Keep The Popcorn. A segunda foi da Leigh Alexander (Gamasutra), no Sexy Videogameland. Basicamente, o que os dois dizem é que devemos analisar os videogames menos como filmes e mais como música. Com coisas tão básicas e verdadeiras como “enquanto é muito difícil que você queira ver um filme mais de uma ou duas vezes em um curto espaço de tempo, você pode querer ouvir música ou jogar um videogame várias vezes”, fica difícil de não concordar com alguns tópicos.
E eu achei curioso, porque estava pensando mais ou menos a mesma coisa. Mas, enquanto Dahlen e Alexander partem para uma ligeira masturbação, jogando no mesmo balaio Bootsy Collins, o Radiohead, Billy Corgan, jazz e Beethoven, eu acho que temos que limitar um pouco mais o escopo. Os jogos em geral são música – mas os videogames são rock.
E o argumento que eu apresento é menos teórico e mais histórico. Basta analisar a história da música a partir de uma ótica popular/tecnológica e aplicar isso para os videogames.
Vamos começar:
A música sempre existiu. No entanto, ela nunca foi popular, no sentido de ser voltada para as massas. Havia a música para crianças e o resto.
Da mesma forma, sempre existiram jogos, mas eles sempre foram divididos entre “para crianças/jovens” e “não para crianças/jovens”.
Na virada do século XIX para o XX, apareceram as primeiras tecnologias de gravação. Elas reduziram o custo da música para as massas (afinal, não era mais necessário pagar músicos para poder ouvir música), mas ainda assim apenas alguns tinham acesso a essa maneira de ouvir música.
Depois da criação do computador, apareceram os primeiros videogames – ainda restritos a centros acadêmicos, já que um computador era uma máquina absurdamente grande e cara.
Quando os discos de 78 rotações foram criados, a tecnologia de gravação teve seu custo enormemente reduzido. Com isso, a música se barateou ainda mais, ficando realmente popular. Mesmo assim, essa música popular (em contraste com a música clássica) não era fundamentalmente “para jovens”, já que não rompia tabus; um artista como Frank Sinatra (ou mesmo os mais “transgressores” como Robert Johnson ou Muddy Waters) eram ouvidos tanto por jovens quanto por adultos.
Os microprocessadores e circuitos lógicos começam a ter preços que não são acessíveis apenas a universidades, governos ou mega-corporações. Aqui surge o arcade e começa a popularização do videogame – ainda com apelo a todas as faixas etárias.
A guitarra elétrica como a conhecemos hoje, criada no final dos anos 40, foi fundamental para a criação do blues de Chicago. A partir daí, juntamente com um óbvio empurrãozinho cultural, temos o surgimento do rock and roll – e do primeiro estilo musical voltado exclusivamente para os jovens.
Da mesma forma, a evolução da tecnologia do arcade acabou gerando os videogames domésticos. Aqui admito que forço um pouco a barra; enquanto a parte social foi o principal ingrediente na criação do rock and roll, na criação dos videogames domésticos o fundamental foi a tecnologia. Mas claro, isso não significa que o tecnológico não tenha sido fundamental no rock and roll.
O rock and roll evoluiu, criou vários ídolos (e um Rei), surgiram vários estilos derivados… e depois murchou quando a moda passou.
Da mesma forma, os videogames evoluíram, foram criados vários ícones que seguem válidos até hoje (e o ícone maior, que foi sem dúvida Pac-Man), vários estilos de jogo… mas depois decaíram.
Com o rock and roll murcho no seu país de origem, alguns grupos mantiveram a chama acesa do outro lado do oceano Atlântico, e um deles levantou novamente o gênero: os Beatles.
Com o videogame doméstico morto no seu país de origem, uma empresa manteve a chama acesa do outro lado do oceano Pacífico, levantando novamente o gênero: a Nintendo.
Ao longo de sua carreira, os Beatles trouxeram inovações, tanto técnicas (com sua inventiva em estúdio) quanto artísticas (Lennon e McCartney usavam suas experiências pessoais de uma maneira bastante mais explícita do que qualquer autor havia feito antes). E seus companheiros e competidores seguiam atrás, sendo influenciados e (ainda que a menor medida) influenciando.
E a Nintendo, ao longo do seu período de dominação global (o que inclui a atualidade), trouxe muitas inovações. Tanto na parte técnica (algo que nem preciso mencionar) quanto artísticas – devemos lembrar que Miyamoto usou muitas de suas experiências pessoais para seus títulos: Zelda vem de suas lembranças de criança quando ele explorava o quintal; Pikmin veio de sua paixão pela jardinagem; Wii Fit saiu de sua vontade de fazer exercícios com a família. E os competidores da Nintendo sempre foram influenciados por seus sucessos e criações, assim como as melhores coisas dos competidores sempre influenciaram o trabalho da Nintendo.
Devemos seguir? Não. Basicamente, nós chegamos no ponto onde as semelhanças acabam, ou melhor, diminuem. A Nintendo não quebrou como os Beatles (a não ser que a gente considere que os Beatles eram Miyamoto e Yokoi, e não a Nintendo como um todo – mas aí Miyamoto seria Lennon e McCartney em uma só pessoa, e Yokoi seria Harrison, mas estou divagando…). Reconheço que a semelhança seria melhor se os Beatles tivessem continuado e se os Stones tivessem se separado depois da morte do Brian Jones (Stones igual a Sega, que genial teria sido…).
Mas isso não significa que a partir daqui os caminhos do rock e dos videogames se separem. Hoje, os videogames são o rock dos anos 70. Grupos de arena e megalomaníacos, com 747 privados e muitas vezes mais imagem que substância são o mais parecido às superproduções videogamísticas de milhões de dólares de hoje em dia. Sem contar outras semelhanças mais específicas:
Kojima e seus jogos pretensiosos e que parecem mais filmes que games são como o Pink Floyd, o Yes e o Europe, todos bizarramente fundidos em uma só pessoa; O Suda51 e suas viagens transgressoras que ninguém entende são o Sex Pistols, um grupo transgressor que cospe na cara de apresentadores de TV sem se dar conta que é um falso transgressor domesticado para entreter as massas sedentas de rebeldia pré-fabricada; David Jaffe e Cliff Blezinski são o Kiss: sabem tocar, a música é divertida… Mas tocam sempre a mesma música, prestam mais atenção ao visual que ao conteúdo e são quase mais conhecidos por suas putarias fora do palco que pelo que realmente sabem fazer.
Só resta esperar que o videogame faça o mesmo que o rock fez nos anos 80: migre para algo menos megalomaníaco e mais divertido. Vamos ver quem vai começar a new-wave dos videogames – e, melhor ainda, quem será o Michael Jackson dos videogames e reinventará o meio, criando o “pop videogame”. Mal posso esperar.