Não há a menor sombra de dúvidas que a notícia do ano no mundo dos games é a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. E ainda estamos em janeiro. Enquanto muitos comemoram a eventual chegada de mais títulos de peso no popularíssimo Game Pass, outros se preocupam (com razão) em relação à tendência monopolista que a Microsoft manifesta mais uma vez em sua trajetória e os executivos do lado de lá miram no metaverso (está na carta aos acionistas). É uma aquisição com múltiplas camadas interpretativas e nem vou entrar no mérito da tormenta de relações trabalhistas que estava assolando a Activision Blizzard e agora é uma bomba relógio nas mãos de seus novos donos.
Meu ponto de interesse aqui está na progressiva e aparentemente inevitável mudança de nossos hábitos de consumo em relação aos jogos eletrônicos. Quem é dono do quê? Somos consumidores ou somos o produto?
Para nós que temos uma certa idade (desculpa aí, millenials) é fácil visualizar uma era perdida no passado em que os arcades dominavam e nossa relação com a mídia estava no gasto desenfreado de fichas, muitas vezes sacrificando o dinheiro de nosso lanche em troca de uma nova chance naquela fase difícil ou contra aquele chefe impossível. É fácil visualizar como isso mudou a partir do momento em que ganhamos nosso primeiro console, não importa a geração. A partir daquele momento éramos o dono da bola, o dono do jogo e não mais o “muquirana” dono do botequim que nunca fazia fiado. Com o dinheiro da mesada ou com um pedido caridoso, conseguíamos o jogo que queríamos para jogar o quanto quisermos. Éramos o dono do produto.

Entretanto, por mais que suas memórias contem diferente, essa relação não aconteceu em fases. Você ou eu podemos imaginar que os consoles vieram depois dos fliperamas, porque foi assim em nossos lares e hoje é inegável que os consoles domésticos evoluíram para níveis estratosféricos de potência gráfica e de processamento enquanto os últimos arcades definham em shoppings esquecidos com uma experiência que é praticamente retrô. A História conta uma relação diferente: arcades e consoles caminharam lado a lado. Até determinado ponto, certamente, mas em sua origem foi uma evolução quase simultânea.
Senta que lá vem história
O primeiro console, o Magnavox Odyssey, foi criação do visionário e lamentavelmente falecido Ralph S. Bauer, em 1972. A Atari lançaria seu console dedicado a Pong três anos depois. Inclusive, nessa chamada primeira geração, foram lançados mais de 900(!) consoles de diferentes fabricantes, uma terra de oportunidades que desaguaria no oligopólio atual de apenas 4 plataformas (se considerarmos o PC).
Portanto, por décadas, o consumidor teve duas formas de se relacionar com os jogos eletrônicos: pagando por partida nos arcades ou sendo dono ele mesmo de um console (que nunca foi barato) e do jogo (que também nunca foi barato). Essa dicotomia se refletia inclusive no desenvolvimento dos jogos, em que mesmo títulos voltados para o consumidor doméstico apresentavam aquela dificuldade artificial e cruel criada para vender fichas. Então, não, os títulos da sua infância não eram “desafiadores”, eles apenas carregavam uma herança maldita de outra relação de consumo.

Apesar do crise dos jogos eletrônicos no meio dos anos 80, o mercado não se modificou. Empresas fecharam as portas certamente, consoles antigos se tornaram obsoletos, mas outras empresas, outros consoles vieram para preencher essa lacuna. Com o avanço tecnológico, cada salto de geração era mais demorado, o que favoreceu o surgimento dos colecionadores orgulhosos com suas estantes ou bibliotecas de mídias físicas.
A ascensão da mídia digital talvez tenha sido a primeira possibilidade de reinvenção real dessas relações de consumo. Abria-se ali a possibilidade do jogador ser dono do jogo, mas não tê-lo materializado em forma de mídia física. É uma longa discussão sobre o impacto dessa modalidade no mercado ou sobre se realmente somos donos daquilo que pagamos, mas é inegável que o processo é irreversível. A partir daquela virada, formou-se toda uma geração de jogadores (e não me excluo dessa coletividade) que aceita o digital como sentido de propriedade.
A esta altura do século XXI, os arcades se tornaram uma curiosidade de final de semana e não mais uma opção prática de consumo. A discussão passou a ser entre possuir a mídia física e possuir o jogo em formato digital. A partir do instante em que as caixas passaram a conter chaves de ativação em algum tipo de plataforma, tornou-se evidente que a posse do objeto estava mais para um saudável fetiche do que realmente uma independência. Se não acredita, tenta pegar qualquer título lançado nos últimos dez anos, colocar seu DVD no drive e jogar sem precisar de algum tipo de autenticação online.
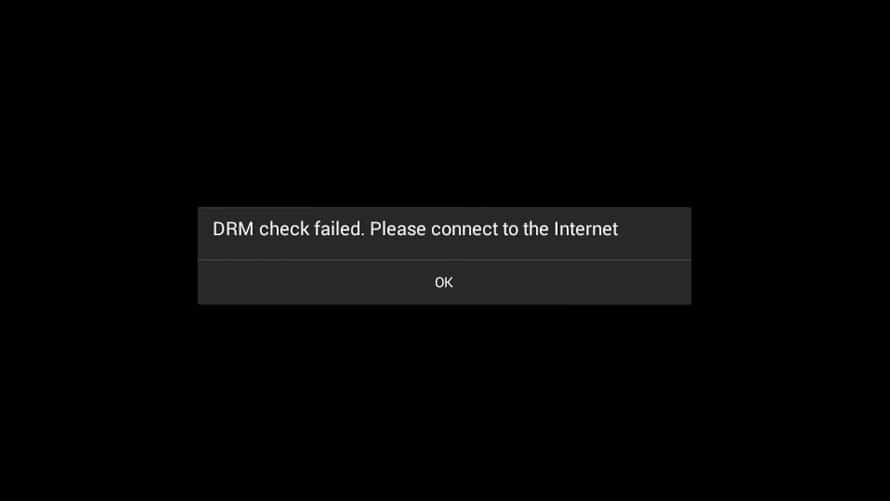
O consumo mudou
A verdadeira revolução estava mais à frente: serviços de assinatura. Não se pode chamar a Microsoft de visionária, porque experimentos nesse sentido foram realizados por décadas, desde a época do telefone com disco. Entretanto, a empresa enxergou o momento certo de combinar seu poder financeiro com a velocidade de conexão dos usuários, a aceitação do produto digital e o boom dos serviços de streaming de vídeo. Era uma questão de se trocar a metáfora. Desde os primórdios, com os consoles, consumíamos jogos da mesma forma que consumíamos livros e álbuns de música, comprando-os individualmente e nos tornando proprietários daquele produto.
Porém, havia bem do nosso lado, no mesmo aparelho, inclusive, outro modelo: conteúdo televisivo. Nenhum espectador (salvo exceções bem específicas) paga por cada programa individualmente. Nós compramos o pacote (ou nem isso, no caso da TV aberta, mas aí o produto somos nós) e desfrutamos de diferentes produtos a nosso bel-prazer. O dono é o proprietário da plataforma, é ele que remunera os criadores de conteúdo diretamente. Por que não levar esse modelo para os jogos eletrônicos? Não por acaso, livros (através do Kindle, por exemplo) e música (através do Spotify, por exemplo) já tinham aderido a esse modelo.
Então, serviços de assinatura de jogos são um inevitável futuro? O paradigma será completamente revertido e os colecionadores de jogos serão tão anacrônicos como os hipsters que compram discos de vinil? Possivelmente.

Macacos me mordam!
Ao mesmo tempo que essa nova norma vai se estabelecendo, o capitalismo, essa entidade mal-falada e sem face que ninguém compreende direito, tenta apresentar para nós uma aberração, uma solução para algo que ele mesmo criou. Você quer continuar sendo dono de um pedaço dos jogos? Você quer se sentir proprietário novamente em uma era em que tudo é alugado, assinado, inscrito e intangível? Você pode comprar uma informação que diz que você é o proprietário e essa informação ficará armazenada na nuvem. Você é o dono daquilo que não tem forma. Você não pode pegar, cheirar, manusear, utilizar a seu bel-prazer mas é o dono inegável e nós podemos provar.
Sim, estou falando dos NFTs. Seu apelo é traiçoeiro e igualmente anacrônico. É evidente para todos que o mercado de NFTs foi invadido por especuladores que estão pouco se lixando para o conceito de propriedade e estão apenas interessados em que mais pessoas entrem no ecossistema para passar pra frente por um valor maior o que já compraram. Não são apreciadores de tulipas, se é que alguém algum dia curtiu tulipa nessa mania toda. Eles prometem aos desavisados que será possível ser o dono incondicional de uma determinada arma ou aparência ou item ou pedaço de terra virtual e que esse seu produto poderá ser utilizado em qualquer jogo, uma falácia tão descarada que qualquer desenvolvedor de jogos que faça jus ao suor de sua testa irá dizer que é impossível.

Talvez o NFT seja a outra face dessa mesma moeda. Estamos perdendo o senso de posse, um dos paradigmas societários, desde que o primeiro sujeito colocou uma cerca em volta de sua casa ou desde que foi inventado o casamento registrado perante uma autoridade (seja sacra ou laica). Esse clima de “ninguém é de ninguém” deve fazer algum choque de futuro nas pessoas, que as leva a gastar rios de dinheiro em recibos que as tornam donos de desenhos de macaco.
E as empresas de jogos, obviamente, estão de olho nessa punção, mesmo que isso gere desconfiança e gritaria de boa parte de seu consumidores. Aí temos a Ubisoft que não nos deixa mentir ou a Konami celebrando mais um aniversário de Castlevania não com jogos, mas com NFTs. Que fique registrado que o Quartz foi um fiasco e a Konami arrecadou somente 162 mil dólares em sua brincadeira, troco de pinga no orçamento de uma produtora de seu porte. Porém, nem a rejeição de uma parcela considerável dos jogadores nem o rendimento baixo das iniciativas iniciais enterraram o conceito de NFT e tudo indica que apenas arranhamos sua superfície. Estaria nascendo aí uma quarta relação de consumo? De ser dono de um pedaço de um jogo, mas o dono “único”?
É guerra!
Esse desespero pela posse se manifesta também na guerra de consoles. É perfeitamente saudável ter uma preferência, por motivos que são exclusivamente seus, por essa ou aquela plataforma. Pode ser preço, pode ser catálogo, podem ser as condições físicas na sua casa, seu círculo de amigos, não importa. Sou PC Gamer por mais de 20 anos, basicamente por trabalhar o dia inteiro no PC e precisar de uma máquina que não seja uma torradeira. Já que tenho uma máquina relativamente boa, uso como plataforma de jogos. E é isso. Há outros custos no meu orçamento que tornariam a aquisição de um console um luxo. Enfim, essa diferença é saudável e a competição entre os fabricantes alavanca a indústria como um todo.
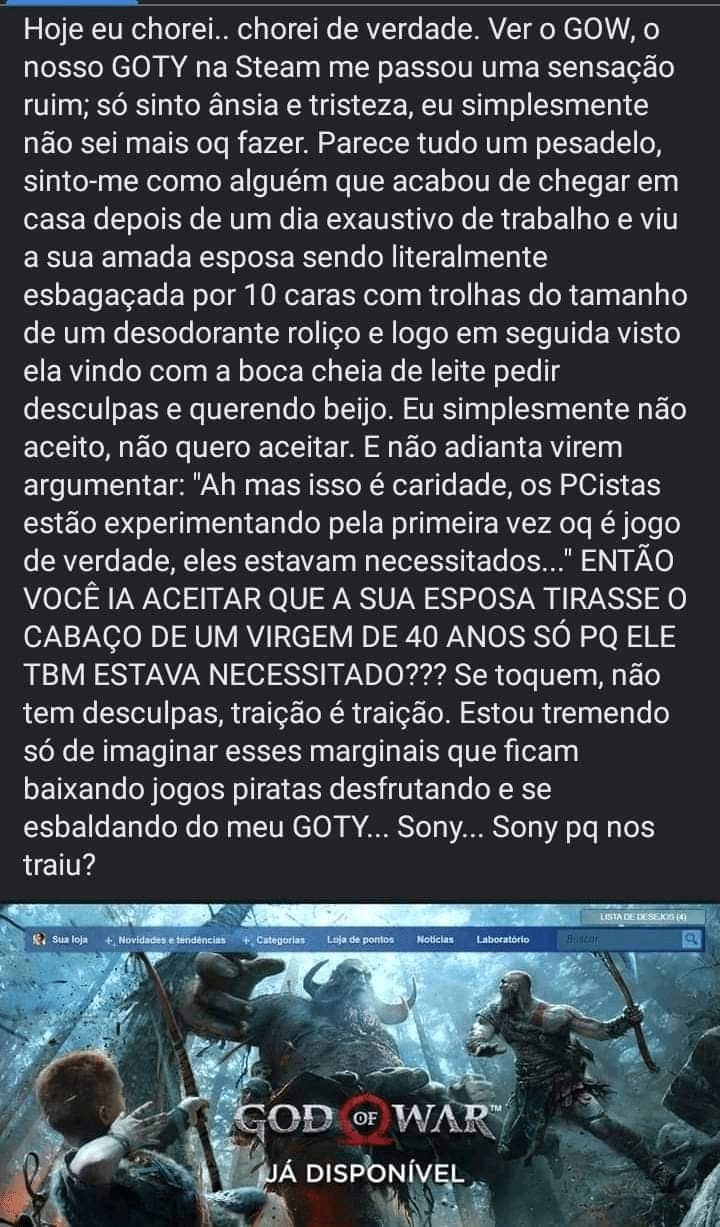
Porém, existem aqueles jogadores que transferem sua necessidade de posse para o centro da experiência. É vital ser o dono dessa ou daquela plataforma (e sim, há PC Gamers nessa seara). A partir dessa relação de posse se estabelece um clima de rivalidade contra outros jogadores que não tem nada a ver com o ato de jogar, o prazer de resolver desafios, explorar novos mundos, descobrir histórias. Tudo se transforma em “eu tenho e você não tem”, que depois evolui para algo ainda pior que é o “eu tenho e você não tem o direito de ter também“. Para essas pessoas, existe um valor agregado na posse daquela plataforma, um valor agregado que perpassa para sua própria auto-estima, ele se define como um “-ista” e encara como ataque pessoal qualquer alteração naquilo que ele acredita ser dono.
A indústria dos jogos eletrônicos completa meio século em 2022. ainda em busca de uma relação de consumo que satisfaça a todos ou, pelo menos, seja mais lucrativa para quem já está lucrando. É preciso que cada um de nós avalie bem onde quer estar daqui pra frente. Seremos consumidores ou o produto? Até que ponto vale a pena lutar para ser o “dono” de alguma coisa? Não estarão todas essas bobagens nos afastando do que realmente importa, ou seja, sentar no sofá/cadeira e iniciar o jogo? Não tenho respostas para nenhuma dessas perguntas e, do alto de uma biblioteca de mais de mil títulos no Steam, apenas pondero se terei tempo para desfrutar de todos eles, essa torre de Babel consumista na qual me meti.



